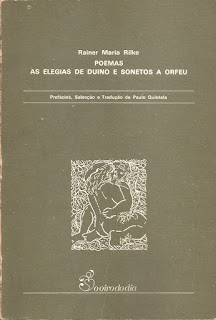Sinopse: Branquinho
da Fonseca, Mortágua, 1905 - Lisboa, 1974
Poeta,
dramaturgo e ficcionista, filho do polémico escritor Tomás da Fonseca,
frequentou os primeiros anos do curso liceal, em Lisboa. Com dezasseis anos vai
para Coimbra, onde terminou os estudos secundários e o curso de Direito em
1930.
Em 1935, foi
nomeado Conservador do Registo Civil em Marvão, tendo desempenhado as mesmas
funções na Nazaré, em 1936. No ano de 1943, é provido no lugar de Conservador
do Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, de Cascais, onde já residia e
onde lançou a experiência das bibliotecas itinerantes, o que foi aproveitado
pela Gulbenkian, que o convidou para organizar e dirigir o Serviço de
Bibliotecas Itinerantes e Fixas, dessa mesma Fundação, a partir de 1958, tendo
sido o seu primeiro director, até à data da sua morte.
Usou o
pseudónimo de António Madeira, e o seu itinerário artístico pode ser balizado
seguindo a bibliografia adiante inclusa. Colaborou nas revistas Manifesto,
1936, e Litoral, 1944. Foi co-editor das revistas Tríptico, revista de arte,
poesia e crítica (Coimbra, 1924-25), Presença, folha de arte e crítica (de 1927
a 1930) e Sinal, revista literária (Coimbra, 1930).
Branquinho
da Fonseca foi um presencista. Para o compreendermos, deveremos lembrar a
principal característica desse movimento: a total liberdade de criação
artística, movida pela necessidade de cada qual poder assumir a sua própria
verdade e sensibilidade, donde a assumpção de um individualismo subjectivo
bastante descomprometido com o social e o político. A dor de homem isolado
conduzi-lo-á a uma lúcida auto-análise e a um confessionalismo directo e
extremamente transparente, num discurso concreto mas simultaneamente onírico,
sempre autêntico: «ai daquele que se perde de vista a si próprio», confessou-o.
Se
observarmos de perto o quase omnipresente narrador-personagem, não poderemos
deixar de ver nele um auto-retrato, do qual se destaca uma permanente hesitação
e insegurança, em termos comportamentais, que chega a atingir a desistência,
associada à inadaptação a um mundo social que lhe é hostil e que o arrastou
para o cepticismo político-social: «todos (os caminhos) vão dar a Roma».
Compreendemos, assim, a sua introversão egocêntrica e amargurada, pois «o meu
reino é uma ilha». A timidez e cautelas que manifesta perante os vários
companheiros de viagem (e perante a mulher, a que nunca acederá) impediram-no
sempre de os contrariar ou de se lhes opor, permitindo-nos talvez apreender as
razões, tão visíveis na sua obra, da sua extrema susceptibilidade quanto a
sentimentos como o de se sentir ridículo ou facilmente vexado: «desprezarem as
coisas... mas de que sou escravo, é a pior humilhação... o maior vexame». Para
se defender de todos estes constrangimentos e escravidões, o caminho encontrado
parece ter sido o do distanciamento das coisas, com a subsequente atitude
racionalista e irónica que perpassa em todos os seus textos, devendo o aparente
amoralismo e indiferença ética, por outros detectados, mais não ser do que uma
resultante óbvia dessa mesma atitude. Na verdade, se o confronto entre personagens
é só inicialmente esboçado, é porque as situações conflituosas não devem fazer
parte das perspectivas e atitudes do escritor, acabando por diluí-las, ou mesmo
anulá-las, por meio de palavras e gestos socializados, tantas vezes através da
bonomia, indiferença ou humor, o que não quer dizer que não mostre hostilidade
contra os preconceitos políticos e ideológicos que, na altura, faziam eco, mas
que considerava inadequados porque sub-repticiamente falsos e enganadores.
Essa mesma
habilidade estendeu-a contra a cidade e contra a própria família, enquanto
espaços fechados geradores de hipocrisias, dos quais «Curva do Céu» é um
símbolo, na figura da criança moribunda, a quem apenas concede o poder de
sonhar. Atendendo agora à dinâmica e características globais, quer da obra
ficcional, quer do próprio A., dir-se-á que não haveria outra alternativa que
não fosse a da criação, como elemento nuclear, de um narrador omnisciente e
participante, para se poder assumir como testemunha (e até mesmo como
inspector) – «encontro-me a observar-me as reacções... as ideias» – perspicaz e
inteligente e que desempenhasse plenamente as funções de condutor interno
dessas mesmas narrativas. É que isso permitir-lhe-ia coordenar e ajustar os
processos narrativos e introduzir neles as componentes da personalidade
artística de Branquinho, mormente a necessidade de confissão e comunhão com o
leitor, por meio de uma linguagem directa, coloquial e luminosamente
transparente, desnudando intimidades psíquicas (sobretudo através do monólogo e
da divagação) e que sentimos como totalmente sinceras e verdadeiras, até porque
o destinatário é também o próprio escritor.
Associado a
este narrador-personagem, encontraremos habitualmente um companheiro de viagem,
formando com ele uma dupla de solitários, por vezes dissimulados, mas sempre
interactivos e desencadeadores da acção. A instituição destes dois pólos
narrativos facilita a cisão fictícia de um todo, que engendra um esboço de
confronto dramático. Num desses pólos, encontraremos uma unidade consubstanciada
no viajante mental, o escritor que tem a função de se transcrever e de
testemunhar o outro, mas confessadamente sedentário: «para pensar bem é preciso
estar quieto», utilizando um discurso metonímico, essencialmente referente de
um mundo quotidiano e natural, profundamente racional e lógico, porém
estranhamente voluptuoso, elegante, lírico e cândido, numa justaposição de
frases eminentemente coordenadas por adversativas – necessárias à premente
introdução do inesperado, invulgar e insólito – e tantas vezes expressionistas
pela captação subjectiva e deformadora do pormenor que habita o mundo real. No
outro pólo, encontramos o mundo da acção, o do viajante dinâmico que se exprime
através do diálogo ou dos seus comportamentos, retratando um eu apaixonado,
onírico e dramático, gerador de situações enigmáticas, plurissignificantes e
intrinsecamente simbólicas. Não será pois de estranhar que esta personagem
possa ser, por um lado, agressiva, prepotente ou intimidante, ao começo, e
tornar-se depois gentil e afável, mesmo tímida e ingénua, para que se possa
estabelecer, entre os dois pólos, a comunhão e uma ponte. É nesta comunhão,
«agarrando-lhe no braço, já familiarmente», que os dois vectores se associam
num sistema muito bem urdido e coerente, que só uma experiência vivencial
própria poderia ter construído. Esta dupla toma existência em vagabundagens
nocturnas, no meio das sombras e em espaços sem nome, labirintos e
encruzilhadas perdidas algures em solares arruinados, onde o «de repente» e o
inesperado brotam a todo o momento, formando um tecido de sonhos, uma paisagem
kafkiana, mas sempre real porque psicologicamente coerente e verdadeira.
Sendo a obra
do A. constituída por poesia, teatro, romance e contos, só estes denunciam um
nível de maturidade que atinge a perfeição, destacando-se O Barão, Rio Turvo e
O Involuntário. Ler estas narrativas é ler, de facto, o essencial de
Branquinho. Quanto aos restantes trabalhos, quase poderíamos considerá-los
«apontamentos» de uma fase experimental, produto de uma verdura da juventude, o
que não impede que neles se manifestem positivas realizações do vanguardismo
pós-modernista.
De qualquer
forma, Branquinho não constrói histórias de amor, como já tem sido sugerido,
onde a procura da mulher se torna tema. Os desencontros amorosos são, na
verdade, episódicos. Os verdadeiros temas são o da auto-confissão e o do
encontro, comunhão e entendimento entre as duas entidades já assinaladas, as
duas instâncias de um único «eu» perante o inelutável que será o da mulher etérea,
botão de rosa, vestal, «um astro que circundo que é só meu e não habito»,
reconfirmado pelo «busco...aquela a quem ama a minha alma». Dir-se-á um poeta
sem corpo, ainda na «eterna juventude», fechado no seu casulo. Nele, poderemos
ver a paixão mas nunca o amor, daí que as suas narrativas sejam uma «viagem /
que não começou nem acabou».
in
Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, Vol. IV, Lisboa, 1997